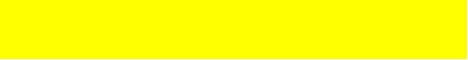HQ ANDREA PAZIENZA; BLOW-UP 50 ANOS DEPOIS; GLAUBER POR ROGÉRIO MENEZES, EXPERIMENTAL DRUGS
- Details
- Hits: 3052
LIVING
This guy made the best LSD of the ’60s
By Larry Getlen - http://nypost.com/2016/11/19/this-guy-made-the-best-lsd-of-the-60s/

Owsley "Bear" Stanley (left) and Grateful Dead's Jerry Garcia in 1969. Photo: Rosie McGee
19 nov. / 2016 - For many, the psychedelic Sixties began at an event called the Trips Festival that took place in San Francisco the third weekend of January 1966.
At the three-day blowout, between 3,000 and 5,000 people tripping on LSD — more than had ever experienced the drug together — let loose.
Grateful Dead guitarist Jerry Garcia called it “total, wall-to-wall gonzo lunacy,” noting there were “people jumping off balconies onto blankets and then bouncing up and down.” Hells Angels fought with other biker gangs while a member of the Merry Pranksters, the experimental LSD crew of author Ken Kesey — who attended the event in a “silver space suit with a helmet” — tried to pull Janis Joplin and her band off stage after just one song.
And at the center of it all was the man who made it happen — Owsley, the psychedelic pioneer who provided the LSD.

This new biography positions Owsley, as both he and his brand of LSD came to be known, as wizard, madman and genius. In addition to creating the most pure and powerful LSD on the planet, he began the tradition of taping the Dead’s shows and developed what was, at the time, the world’s greatest live sound system.
For all his contributions to music, though, it was Owsley’s acid that made him a household name; the Oxford English Dictionary added “Owsley” as a word in 2005.
Augustus Owsley Stanley III (later nicknamed Bear) was born on Jan. 19, 1935. His grandfather, Augustus Owsley Stanley, had been a US senator and the governor of Kentucky.
The anti-authoritarian autodidact began smoking marijuana and taking LSD and speed in 1964 and became a drug advocate.
But when he couldn’t find any LSD,
which was then still legal,
the college dropout learned to make it himself.
Walking into a chemistry lab at UC-Berkeley, hoping to find a scale to weigh his speed, he met a chemist named Melissa Cargill, and spoke to her about the chemistry of psychedelics. Owsley invited her to coffee, and within three days, Cargill broke up with her fiancé, abandoned thoughts of grad school and moved in with Owsley.
He spent several weeks studying chemistry at the university library, and, with Cargill’s help, began making his own LSD. By March 1965, the two had succeeded in creating the purest LSD to date. They began producing it in bulk, and word spread.

Stanley in San Francisco in 1991 - Photo: Getty Images
Owsley and Cargill set up shop in an LA apartment and produced around 800,000 hits of LSD, which was made illegal in October 1966. He intended to stay under the radar, but when a local musician he sold to began telling people who made the drug, his name stuck.
“I had nothing to do with that, and I did everything I could to stay out of it,” Owsley said. “I wasn’t trying to create a f—ing myth — I was just trying to stay out of jail.”
Over the next year, Owsley became friends with the Dead, taking over as their sound man and providing them with LSD.
His acid, meanwhile, became a cultural touchstone. Musicians including the Dead, the Jefferson Airplane and Frank Zappa wrote songs either mentioning or inspired by him.
At the Monterey Pop Festival in June 1967, The Who’s Pete Townshend took a hit. “Owsley was introducing, like, Version 7 of his own acid,” Townshend said, noting that “you had no clue” what you were getting. “I took some of his at Monterey and I never touched a drug again for 18 years. It was extraordinarily powerful.”
John Lennon, who had developed an appreciation for LSD in England, “had become fixated on how he could continue to obtain enough high-quality acid to fuel his creative endeavors.”
He approached Owsley about a lifetime supply but was uncertain how to get it into England.
When he couldn’t find any LSD, which was then still legal, the college dropout learned to make it himself.
“Lennon sent a cameraman there to shoot the festival,” writes Greenfield. “The cameraman’s real job was to smuggle the acid back through English customs [in his telephoto lens].”
The effects of the Beatles’ trips on Owsley acid likely fueled the band’s trippy “Magical Mystery Tour” film, which was shot shortly after.
Not every musician was on board. When Owsley offered a tab to Ravi Shankar at Monterey, “the famed Indian sitar player promptly turn[ed] away from him and stalk[ed] out of the room.” And when Owsley met Bob Dylan in New York, he introduced himself by saying, “Hi Bob. I’m Owsley. Want some acid?” Dylan replied, “Who is this freak? Get him out of here!”
After a friend sold $3,400 worth of Owsley acid to an undercover agent in December 1967, Owsley’s home was searched and authorities found 67.5 grams of LSD, enough to make around 700,000 doses.
He was arrested and convicted, and served two years in prison. After his release, he had changed, becoming, according to a friend, “dark and dour.”
Owsley worked with the Grateful Dead on and off for decades and moved to Australia in his later years. He died from injuries suffered in a car crash on March 12, 2011.

Owsley Stanley in San Francisco in 1975. - Photo: Getty Images
Dead lyricist John Perry Barlow once met Albert Hoffman, creator of LSD, at a conference, and the discussion tuned to Owsley.
“[Hoffman] was quite impressed with what Owsley had done, as he was the only one who had ever got [the chemistry] correct,” writes Greenfield, citing Barlow.
“On every level, it was the ultimate confirmation that Owsley had come up with the real thing.”
EU E

Rogério Menezes: Eu & Glauber Rocha
Rogério Menezes - http://www.correio24horas.com.br/detalhe/eu-e/noticia/rogerio-menezes-eu-glauber-rocha/?cHash=03a8f03750c5b299b587ce30e7fee503
27 nov. / 2016 - O Cine Caruso, outrora localizado no Posto 6, em Copacabana, só exibia filmes de fechar o comércio. Era o caso. Lá assisti, em companhia de cinco ou seis criaturas, no começo dos anos 1980, o espetacular A Idade Da Terra, de Glauber Rocha, filme que fez meus neurônios dançarem rumba e cantarem Babalu em hebraico. A palavra exata: frenesi. Nunca dantes neste país havia visto filme tão perturbador. O diretor, sertanejo feito eu, de Vitória da Conquista, bem ao lado de Jequiébahia, me levara à loucura com imagens que até hoje me perturbam e me inspiram – e me fizeram crer, com absoluta convicção: a arte existe, logo, tudo é permitido.
No meio da longa sessão, as outras criaturas que tentavam dar algum nexo às arrebatadoras cenas emanadas pelo écran – como se a vida tivesse algum nexo, e não tem – escafederam-se proferindo impropérios e palavrões. Donde resultou a seguinte epifania: eu, sozinho, em cinema de quase mil lugares, absorvendo e sorvendo cada frame glauberiano com prazer e gula.
Era vesperal, e ao sair sob o sol abrasador da Avenida Nossa Senhora de Copacabana em surto lisérgico e hipnótico atravessei a faixa de pedestres com o sinal vermelho. Quase fui atropelado por dois automóveis cujos motoristas xingaram minha mãe e, por pouco, pouco mesmo, a épica magia do cinema de Glauber Rocha não me matou com menos de trinta anos.
Décadas antes, com tenros 8 anos, assisti a um filme de Glauber Rocha em noite de segunda-feira no Cine Auditorium, em Jequiébahia. Até hoje não entendo o motivo dessa minha incursão tão precoce na cinematografia glauberiana proporcionada por meus pais Águida e Crispim Menezes. O que teria levado pais da classe média baixa dos grotões do sertão a levar filho criança a ver Barravento, o primeiro longa-metragem de Glauber Rocha, em pleno verão de 1962?
Nunca tive chance de lhes perguntar o motivo desse, digamos, ‘desvario’, e de lhes agradecer a chance de mergulhar na poética e na estética glauberianas ainda tão infante. O filme revelava alguma tensão social, e já delineava traços do cineasta politicamente iconoclasta que realizaria filmes pelos quatro cantos do mundo e ganharia dimensão cultural planetária. Fato: o que realmente me grudou nos neurônios, e nos meus neurônios permanecem grudados até hoje, foi a figura negra, esguia, bela e nua da atriz Luiza Maranhão desfilando pelas areias tépidas da praia de Buraquinho, nesta Salvadorbahia.
Com cabelos nas ventas, como se diz nos sertões, Glauber Rocha era força da natureza a disparar petardos verbais e telúricos a três por dois. Um vendaval. Melhor, mil vendavais. Em mim, o adolescente tímido que veio estudar nesta capital, o mais visionário e ‘avant la lettre’ dos cineastas brasileiros entrou com bola e tudo feito tsunami bíblico: passou-me a ser programa obrigatório ver todos os filmes e ler (ou assistir na tevê) as entrevistas e sermões pós-apocalípticos que disparava aos borbotões – e que me deixavam siderado, ou, no popular, de queixo caído.
Passei a querer entrevistá-lo. Sem sucesso. O cara parecia ectoplasma mutante que se desmaterializava aqui em Salvador – onde veio morar aos 8 anos, em 1947 – e se materializava em cidades da Europa e África, nas quais circulava com o mesmo traquejo com que flanava quando adolescente entre o bairro do Garcia, onde estudava no Colégio 2 de Julho, e a loja Adamastor, pertencente ao pai do cineasta, na esquina do comecinho da Rua Chile.
A morte precoce do cineasta, aos 42 anos, em 1981, pôs pá de cal no meu projeto jornalístico. Mas a mãe de Glauber Rocha, dona Lúcia – que lhe sobreviveu, e até morrer, em janeiro de 2014, se apossou da persona do filho primogênito – sentou-se por acaso ao meu lado no sofá de um lobby de hotel de Gramado em 1987 e, por vias transversas, contato imediato de primeiro grau se estabeleceu entre nós.
Conversamos durante muitas horas no Festival de Cinema de Gramado. Projetamo-nos. Em mim, aos 33 anos, ela (re) via o filho morto. Nela, aos 69, eu (re) via a minha mãe falecida aos 62. Identificamo-nos. Dona Lúcia não escondia: irrealizada artisticamente pelo casamento no começo da juventude, jogou todos os dados que lhe cabia nas mãos no sucesso e na fama de Glauber. Acertou no milhar, e sabia disso. Admitiu: “Glauber se tornou muito maior e mais importante para o cinema mundial do que eu imaginava”.
Eu enxerguei na mãe de Glauber a minha mãe Águida, artista multimídia que nunca conseguiu deixar de viver no sertão. Não por acaso, mandou-me estudar em Salvador aos 15 anos. Agradeço-lhe o gesto de desprendimento materno. Detalhe: nos divãs de analista que deitei por cerca de trinta anos, descobri que, com essa atitude inusitada para os padrões da época, minha mãe traçava linhas definitivas em relação ao meu futuro.
Herança sublime e, ao mesmo tempo, apavorante. Quanto mais envelheço sem glória, mais me sinto feito aquele asno que nunca para de caminhar porque suculenta cenoura fora-lhe amarrada à cabeçorra e lhe orna ad infinitum os olhos ávidos.
Valei-me São Glauber Rocha!
* Baiano de Mutuípe, o jornalista e escritor Rogério Menezes publicou os romances Meu Nome É Gal, Três Elefantes Na Ópera e Um Náufrago Que Ri. Também autor do livro de crônicas A Solidão Vai Acabar Com Ela

Última obra de quadrinista italiano cult chega ao Brasil
CARLOS MINUANO/METRO - http://culturaediversao.metrojornal.com.br/2016/12/12/ultima-obra-de-quadrinista-italiano-cult-chega-ao-brasil/

capa pompeo andrea pazienzaPouco conhecido e publicado no Brasil, o quadrinista italiano Andrea Pazienza (1956-1988) tem sua obra-prima finalmente publicada aqui.
12 dez. / 2016 - Os Últimos Dias De Pompeo conta de modo visceral, na forma de um relato instintivo, a fase terminal de um artista viciado em drogas. A HQ ganhou ares de autobiografia com a morte do autor, aos 32 anos, por overdose de heroína, menos de um ano depois.
“Andrea está nas dobras destas páginas”, escreve a ex-mulher do artista, Marina Comandini, em um texto que abre Pompeo – para ela, a obra mais completa e madura do quadrinista: “mostra de forma inequívoca toda a sua avassaladora força poética”.
Pazienza viveu e morreu como um ídolo do rock. Se no Brasil foi publicado somente na revista Animal, durante a década de 1980, na Itália suas HQs estiveram nas páginas das melhores publicações (entre elas, as antológicas Cannibale e Frigidaire). Chegou a ser o quadrinista mais bem pago do país e disputado por famosos para pôsteres de filmes e capas de discos.
Fellini convenceu o artista a desenhar o cartaz de Cidade De Mulheres. Para o crítico cinematográfico Gianni Canova, “literatura, pintura, cinema, rock, tudo entrava em curto-circuito nos quadrinhos de Pazienza”. E suas influências (assumidas) eram tão ecléticas quanto ele. Variavam do beat William Burroughs (outro notório usuário de heroína) ao ilustrador da Disney, o criador das HQs do Tio Patinhas, Carl Barks.
Com seu estilão pop, um traço experimental e livre e histórias regadas por drogas, delírios e paranoias, Pazienza, captou a alma de sua geração e conquistou fãs. Na Itália, centros culturais, escolas, teatros e bibliotecas, e até uma praça e rua, levam seu nome.
CULTURA MICHELANGELO ANTONIONI
'Blow-Up', ou 'Depois Daquele Beijo', obra-prima de Michelangelo Antonioni, ganha versão restaurada
Longa se tornou um farol do cinema ao retratar as mudanças que irradiavam da ‘Swinging London’ e fez história ao impor novo conceito para a autoria cinematográfica
Luiz Carlos Merten , O Estado de S. Paulo
8 dez. / 2016 - David Hemmings, o rosto só olhos, o olhar opaco, o sorriso meio infantil, é Thomas, o protagonista de Blow-Up, longa de Michelangelo Antonioni que, no Brasil, foi lançado como Depois Daquele Beijo. Só a escolha do ator já tinha caráter de manifesto. De O Grito a O Deserto Vermelho, passando pela trilogia da solidão e da incomunicabilidade – A Aventura, A Noite e O Eclipse –, Antonioni ficou famoso por escolher atores belos e viris, mas dos quais ele se aplicava em tirar a vitalidade. Steve Cochran, Gabriele Ferzetti, Marcello Mastroianni, Alain Delon, Richard Harris. Em Blow-Up, o grande autor nem teve essa dificuldade. Hemmings já introduz uma frieza, quase uma desumanidade.
LEIA MAIS: Análise: 'Blow-Up' é uma obra que olha para o abismo, como outras de Antonioni
Thomas é fotógrafo e vê o mundo por meio de sua câmera. Num certo sentido, é voyeur por excelência. Profissional da moda, faz um jogo de sedução com as modelos, mas elas também são andróginas, anoréxicas. É um mundo privado de carnalidade. Com a câmera, Thomas monta nas mulheres e cobra delas uma entrega que se assemelha ao orgasmo, mas é um coito, digamos, interrompido. Ele deixa a modelo no solo, exaurida. Zero prazer. Sai desse mundo de artifício para o mundo real. Fotografa sem-tetos num abrigo, ou segue um casal no parque. Tira fotos da dupla, no que parece um verdadeiro jogo amoroso. No estúdio, ao ampliar as fotos, Thomas descobre o que parece um atirador, não, o que é um atirador escondido entre as folhagens. Volta ao parque, e há um cadáver. Encontra a mulher, e é Vanessa Redgrave. Fazem outro jogo, mas, na sequência, as fotos somem, o cadáver também desaparece. Sem corpo, não há crime.

Blow-Up, longa de Michelangelo Antonioni que, no Brasil, foi lançado como Depois Daquele Beijo
Há controvérsia, se são 50 anos ou 49. Blow-Up é uma produção anglo-italiana de 1966, mas só no ano seguinte o filme ganhou a Palma de Ouro em Cannes. Só para lembrar, o grande prêmio do júri foi para Estranho Acidente, de Joseph Losey, e a sueca Pia Degermark foi melhor atriz por Elvira Madigan, de Bo Widerberg. Todos esses filmes fazem hoje parte do imaginário de qualquer cinéfilo. As cenas do parque já foram exaustivamente analisadas, o enigma do tênis sem bola da cena final há todo esse tempo divide os críticos, mas muitos espectadores – os mais jovens, talvez – só agora vão ver o filme na tela grande do cinema. Já o viram em outras mídias, em outras telas – TV, homevideo. Ver ou rever Blow-Up nessas circunstâncias faz toda diferença. É um dos filmes icônicos, emblemáticos, dos anos 1960.
Com ‘Blow-Up’, Antonioni fez história ao impor novo conceito para a autoria cinematográfica
Quem foi jovem nos anos 1940, ou 50, ou 70, 80, 90, com certeza identificará na época de sua juventude um período de mudanças viscerais. Mas foram os anos 1960 que fizeram história. A década que mudou tudo. Os Beatles, a pílula e a minissaia. Um terremoto abalou o mundo e o epicentro era Londres – a Swinging London. Michelangelo Antonioni levara ao limite, na Itália, a sua crítica do vazio existencial da burguesia. Solidão e incomunicabilidade. O Deserto Vermelho levou-o ao que parecia um impasse.

Para se reinventar, Antonioni caiu no mundo. Filmou em Londres (Blow-Up), revelou a ‘América’ em transe (Zabriskie Point) e decifrou o enigma por trás da Grande Muralha (China). Era um grande autor de filmes de arte. Com Blow Up – Depois Daquele Beijo, criou – ou foram as circunstâncias – uma nova modalidade – o filme de arte para as massas. Virou um êxito planetário sem abrir mão do rigor estético. Consolidou uma elite de autores. Já havia Jean-Luc Godard, na França, mas o chefe de fila da nouvelle vague fazia biscoitos finos para intelectuais. Antonioni, Federico Fellini e Ingmar Bergman atingiram outro patamar, e cada um, à sua maneira, foi metalinguístico.
Na cena com Vanessa Redgrave, o fotógrafo, Thomas, tira a camisa. Fica com o torso nu, ela também. Vanessa quase não tem seios. Ficam os dois muito parecidos. Masculino, feminino. Androginia. Só existe uma presença ‘carnal’ no filme, e é a personagem de Sarah Miles. Antonioni viu com desconfiança a revolução sexual da Swinging London. Um mundo gélido de sentimentos, sem afeto. Um mundo em que a realidade é substituída pela ilusão. Thomas vive nesse limiar. Quando descobre o crime, o comprometimento o sacode de seu torpor. Mas quando desaparece o corpo, vai-se também o crime. Um mundo de signos, a civilização da imagem, sem signo, cai no vazio. É como jogar tênis sem bola.
Tanto quanto Thomas, o mundo em que ele vive, a Londres dos anos 1960, é personagem de Blow-Up. Moda, rock, mudanças de comportamento, e o comportamento virou o novo nome da ética. Blow-Up é sobre o estado do mundo em 1966/67. Cinquenta anos depois, por maiores que tenham sido certas mudanças, as essência do filme permanece intacta. Antonioni baseou-se num conto do argentino Julio Cortázar (Las Babas Del Diablo), mas seu farol foi o Alfred Hitchcock de Janela Indiscreta, no qual outro fotógrafo, James Stewart, usa seu instrumento de trabalho, a câmera, para bisbilhotar os vizinhos e também descobre um crime. São filmes sobre arte e cinema, a arte do cinema, e por isso serão eternos. Enquanto existirem filmes.