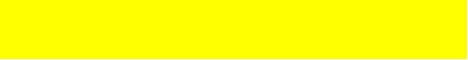Julimar Dos Santos: O Primeiro Desenho, o Último Mundo (2025)
- Details
- Hits: 213
O Primeiro Desenho, o Último Mundo
“Para mim, o primeiro desenho pode ser o último.”
ou, como ele também diz: “Faça cada obra como se fosse a última chance de dizer algo ao mundo.”
A frase do grafiteiro Julimar traduz uma ética estética rigorosa. Para ele, cada desenho, cada traço, cada grafite precisa nascer com força de obra final — nunca de rascunho. Não há espaço para descuido: qualquer trabalho pode ser aquele pelo qual um artista será lembrado.
A exigência artística é total.
Essa postura cria uma disciplina interna inabalável:
todo desenho deve carregar qualidade, intenção e cuidado.
Mesmo o “primeiro” precisa pesar como uma obra concluída.
Isso coloca o artista num permanente estado de foco e excelência.
É essa a trajetória atual de Julimar, revisitando alguns de seus primeiros desenhos — como a capa do álbum Amar pra viver, ou morrer de amor, de Erasmo Carlos — hoje exibida de forma gloriosa no Quiosque do Sinvas, na esquina do Consei, no Guará II.
Julimar pinta aqui em casa há mais de uma década e, generosamente, diz que eu faço uma espécie de curadoria. Entre o traço e a nuvem tóxica da lata de spray, penso em Lee Van Cleef, o ator, e em Thijs van Leer, o flautista do Focus — talvez um resíduo de contracultura, um eco inspirado pela recente partida de Jards Macalé.
Por um bom tempo, espelhamos o interior da churrasqueira com um ar de Silver Factory, cobrindo superfícies com materiais prateados. Curiosamente, nunca surgiu dali alguma referência clara à Factory — nossa própria “máxima”. Anos depois, retomamos as superfícies plateadas por meio de uma manta impermeabilizante de telhado, o que nos deu a possibilidade de criar grandes painéis colados ao teto.
É um trabalho árduo, realizado por Julimar em seus períodos de férias ou nas brechas heroicas que encontra entre os afazeres da Gerência de Cultura do Guará. E assim vamos pintando o firmamento — como faria Yoko Ono.
Julimar é um bardo: o homem que empunha a flauta e atrai atrás de si coletivos inteiros de artistas da cidade, conduzindo-os a verdadeiros happenings alimentados por bananas servidas no improviso. São sempre artistas iniciantes, procurando um lugar ao sol. Julimar inspira pela ação — pela bondade concreta.
Uma de suas últimas iniciativas foi conseguir 300 ingressos do Circo Vitória para distribuir às crianças de creches da região — crianças carentes, que raramente têm acesso a esse tipo de magia.
Julimar é isso: rigor artístico, generosidade humana e uma espécie de luz que continua chamando gente para caminhar junto.

Labirintite Celestial
O painel que vemos na imagem nasce de um episódio real: uma vertigem, um instante de instabilidade física que o artista transformou em poesia visual. É justamente daí que vem o título “Labirintite Celestial” — a oscilação do corpo convertida em movimento de nuvens, cores e formas suspensas no céu.
Na pintura, predominam tons suaves de azul, rosa e amarelo, cores que evocam leveza e trânsito entre mundos. O azul difuso funciona como o campo etéreo, o “céu” propriamente dito, mas um céu que vibra, que pulsa. O rosa dos reflexos lembra o turbilhão de sensações que antecede a vertigem — uma cor que não é calma nem agressiva, mas instável, como um espaço que respira.
O elemento central — uma espécie de dirigível ou nave arredondada — reforça essa ideia de deslocamento. É uma forma flutuante, mas não totalmente segura; parece estar ali, suspensa, tentando encontrar equilíbrio. As hélices pequenas e as bordas marcadas indicam movimento, rotação, uma “busca de eixo”, exatamente como quem sofre um breve desequilíbrio corporal procura o chão com os olhos.
Há também um arco-íris no plano de fundo, símbolo clássico de travessia e reorganização da percepção. Quando a visão se turva, o mundo pode se reorganizar em cores novas, e o arco-íris surge como metáfora dessa passagem entre a queda iminente e a recuperação.
O artista — capturado no momento de criação — segura o celular com a referência na mão, mas mantém o olhar fixo no painel, num gesto de foco e precisão. Seu corpo está firme, apesar da história que deu origem ao mural. É como se dissesse: a vertigem não me derruba, ela vira obra.
O brilho da superfície — provavelmente uma lona prateada que reage à luz — acrescenta textura e vibração. O céu não é um fundo liso; é uma superfície viva, quase líquida, ondulante, reforçando a ideia de instabilidade e movimento interno.
No conjunto, “Labirintite Celestial” é menos sobre queda e mais sobre transformação: a capacidade de um artista de converter uma falha momentânea do corpo em metáfora visual para aquilo que todos vivemos — momentos em que o mundo gira, mas decidimos pintar mesmo assim.