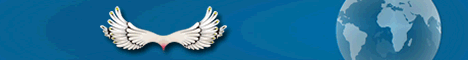Carlinhos Guimarães: foi mais do que um personagem da cena cultural: foi um estado de espírito (2025)
- Details
- Hits: 186

PREFÁCIO
Multiplicidade alheia: Se Antônio Carlos Figueiredo de Guimarães ainda estivesse por aqui, certamente me devolveria a resposta em forma de pergunta: “Por que você não vai tomar conta da sua vida?”
Antônio Carlos Figueiredo de Guimarães era também conhecido como Cabelo, Carlim “Bilú”, Carlinhos Guimarães — e, artisticamente, assinava alguns trabalhos como Carlinho$ Guimarães. Para nós, os cínicos imperfeitos, era Guismarães; e, por fim — mas não menos importante — Carlinho$ Guismarães.
Carlinho$ foi descrito como alguém que preferia o anonimato e evitava que fotos suas fossem publicadas — um impulso paradoxal num mundo que, muitas vezes, exige exposição como condição para o reconhecimento.
Escrevi este texto porque não escrever seria uma forma de traição. Não à literatura, mas à vida que vivi, às pessoas que caminharam comigo e à arte que nunca pediu licença para existir. Se eu não registrasse esses rastros, eles seriam apagados, higienizados ou contados por quem nunca esteve lá.
Não escrevo para organizar o caos, nem para transformá-lo em exemplo. Escrevo porque a memória institucional não dá conta do subterrâneo, e porque o underground só sobrevive quando alguém assume o risco de contar. Este texto é um contra-arquivo: falho, fragmentado, excessivo — como foram os dias, as noites, as amizades e as perdas.
Aqui há luto, mas não cerimônia. Há homenagem, mas sem verniz. Carlinho$ Guimarães jamais caberia num retrato limpo ou numa narrativa comportada, e qualquer tentativa de suavização seria deslealdade. Prefiro o ruído, a contradição e a deriva, porque foi assim que tudo aconteceu.
Escrevi também para me certificar de que aquilo foi real. Para recuperar algo de mim que ficou soterrado no meio das festas, dos excessos, das ausências e dos telefonemas atravessados. Não é nostalgia: é checagem existencial.
Este texto marca posição. Não pede autorização, não busca validação e não disputa lugar confortável. É produção underground. Quem se incomodar, que se anuncie.
Escrevo porque a arte não termina onde a vida termina. Ela insiste, reaparece, liga sem se identificar, continua falando. E porque ainda estou aqui — e estar aqui, depois de tudo, carrega a responsabilidade de contar antes que o silêncio faça o serviço sujo do esquecimento.
mário pazcheco
Antônio Carlos Figueiredo de Guimarães, conhecido como Carlinho$ Guimarães, foi mais do que um personagem da cena cultural: foi um estado de espírito. Viveu a arte como ação imediata, sem esperar datas oficiais, celebrações cívicas ou qualquer forma de autorização simbólica para criar, questionar e existir.
Não era um guerrilheiro no sentido militar, mas no sentido poético — um artista insurgente, fiel às próprias convicções, que fez da vida um gesto contínuo de independência estética. Entre vernissages, leituras radicais e conversas atravessadas por música, literatura e caos urbano, construiu uma trajetória marcada por contradições assumidas e intensidade absoluta.
Oscilava entre o excesso e a escassez com a mesma naturalidade: do Moët & Chandon ao copo barato no bar do Enoque. Musicalmente, transitava do industrial dos anos 80 a The Doors, espelhando um temperamento livre, inconcluso e em permanente deslocamento.
Paradoxalmente, preferia o anonimato e evitava a própria imagem — gesto raro em um mundo que exige exposição como condição de reconhecimento. Para os amigos, ficou a lembrança das conversas no Conic, em Taguatinga ou na Estrutural, espaços que transformava em laboratório de experiência humana e estética.
Carlinho$ representou uma forma de emancipação artística que não depende de calendário, instituição ou validação externa. Seu legado permanece como rastro: inconcluso, inquieto e vivo — exatamente como a arte que escolheu fazer.
Breve início depois de cinco anos...
2004 — 16 de julho
Pouco depois das 19 horas.
Todos os bares abertos.
O glamour atemporal das Polaroids: o encanto persiste à medida que o tempo passa.
No Conic, Zéantônio irradiava paz e amor. Gicello se expressava sem filtros. Eu estava tão exaltado que lancei as lupas para o alto, como se fossem a bandeira de Diniz. Pela lente do mestre Manoel, do Setor P. Norte, fomos capturados meio abilolados, como os três patetas: Zéantônio espalhando energia positiva, Gicello em estado bruto de liberdade, e eu atirando minhas “lupas acesas” ao céu. Naquele instante de varredura, recuperei algo da autoestima que andava soterrada.
A sequência das horas
põe minha lucidez à prova.
A cidade me impõe seu ceticismo cinza.
Vejo o mundo em preto e branco:
pessoas invisíveis,
a cidade sanguessuga
que sangra e suga meus sonhos.
O verde no azul se fragmenta
num raio de cores abstratas.
— quem é o autor?
Esse poema recente envolve a estrutura de concreto que cobre a Praça Ary Pára-raios. Aproxima-se dos 25 anos a peça Os Sete Trabalhos de Estive, um dos grandes sucessos de Ary Pára-raios, encenado em 1979, com direção de Hugo Rodas e o grupo XPTO. No mesmo ano, Glauber Rocha, já afastado dos círculos nobres e dos catálogos culturais da capital, gritou na porta do Hotel Nacional:
— “Eu vim enterrar o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro.”
Jota Pingo, testemunha ocular, somou-se a Glauber e deixou um depoimento precioso, depois incorporado a um curta-metragem muito mais interessante do que os documentários pasteurizados que invadem a telinha.
Naquela semana de julho, fui surpreendido por um saudosismo de despedida: completavam-se 20 anos do desaparecimento prematuro do ator Aloísio Magalhães, figura marcante do teatro brasiliense. Eu vinha alimentando o desejo de criar um memorial que fosse além de recortes — queria depoimentos próximos, histórias não contadas. Poucos sabem que Aloísio era pai, que morreu de câncer. Essas perguntas martelavam minha existência.
Na sexta-feira anterior, consegui gastar uma fortuna e voltar para casa com os dois pneus dianteiros furados. Debaixo do braço, carregava uma mistura explosiva de álcool e telas de Paulo Iolovitch. Nesta sexta, eu queria entender — ou afastar — minha conduta desregrada: a sequência de visitas aos lugares sombrios, a fala alta, a espera ansiosa pela próxima dose que completasse o copo.
Zéantônio, personagem lendário do Conic e parceiro fiel, abre o primeiro bar às nove da manhã: o Bar do Seu Antônio. Em pé no balcão, funciona como uma central de informações para quem passa perguntando caminhos — sindicato da saúde, repartições, destinos incertos. Às sextas, quando saio meia hora mais cedo do trabalho, é inevitável encontrá-lo já um pouco alterado, sempre sorridente:
— “E aí, Mário Pacheco!”
Nossos caminhos tortos se cruzavam e atraíam outros parceiros. A noite se esticava.
Outro camarada — irmão de sangue literário e alma incendiária — é Roberto Gicello, o homem que revisou praticamente todos os livros editados em Brasília. Sua revisão mais recente é uma explosão: A Professora que Sabia Demais — O Caso Ana Elizabeth, de Celso Alcântara. Celso, autor de Brasil: 500 Anos de Derrapagem (elogiado por Tom Zé), circula entre delegacias e inquéritos ao investigar os bastidores da morte da professora Elizabeth Lofrano. Precisa escrever mais? Precisa.
Nunca haverá alguém como Zéantônio. Éramos meio malucos, mas nos entendíamos perfeitamente quando o assunto era desmontar coisas, abrir caixas, inventar confusão. Deveríamos ter montado uma empresa. Foram quase 25 anos de aventuras intensas: causamos estragos, furamos pneus, provocamos o establishment — sobretudo no Plano Piloto. Fumávamos maconha dentro da Tendinha, boate do Hotel Nacional. Urinávamos na mangueira do Beirute, perto das mesas. Fomos expulsos de praticamente todos os eventos políticos e culturais da cidade.
Essa era a nossa alta sociedade do Conic. Não preciso que ninguém conte: eu mesmo conto.
Alguns poucos corajosos incorporaram o espírito Beat — e tenho certeza de que também vomitamos como eles. Para minha filha, Carlinho$ foi o terror da infância.
2006. A 1ª Noite Suja Do Próprio Bol$o

Sexo, drogas & rock’n’roll — ao menos no papel da filipeta.
Naquele período, o endereço dopropiobolso.com.br passou a substituir o domínio original dopropriobolso, após um impasse com o provedor anterior. Ao mudar de hospedagem, o antigo provedor não liberou o domínio, retendo o endereço por motivos administrativos, prática infelizmente comum na internet dos anos 2000. O nome mudou levemente. A ideia, não.
Foi a primeira e também a última vez que pisei ali. Do lado de fora da UK Brasil Pub, estávamos eu, Timm Martins, Dean, meu primo e “Cabelo”, o artista plástico Carlinhos Guimarães. A noite mal tinha começado quando a viatura encostou. A mesma dupla de policiais que já nos interceptava nas madrugadas culturais, vindos do Conic. Expliquei, com a calma possível, que seria um rebuliço tranquilo. Que só tinha a gente.
— Ok.
A batida, disseram, se devia à filipeta.
Lá dentro, o clima não melhorou. O dono da casa nos tratou mal desde o início. Não deixou rolar o vídeo do Pink Floyd com Syd Barrett. Cortou as imagens no meio. Virado para o guitarrista, disparou:
— Você disse que ia encher!
Respondi sem elevar a voz:
— Está sendo um sucesso artístico.
Milagrosamente, numa terça-feira, logo depois do Porão do Rock, apareceu um público bom. Cena independente em movimento, como prometia o papel impresso. Avancei e chamei a Super Stereo Surf de volta ao palco. As fãs pediam “Menstruada” — era esse mesmo o nome da música? Foi ali que passaram a gostar de mim. Na mesa começaram a surgir demo tapes, uma atrás da outra, como oferendas.
Então o cara da mesa de som cortou o microfone. E o som de palco nunca mais foi o mesmo.
Na bateria e nos vocais estava Nathal de Oliveira. A banda segurou como deu. A noite seguiu torta, mas histórica. Eu, nunca mais voltei àquele lugar. E, por via das dúvidas, também nunca mais fui a cemitérios.
2012
21 de Abril

Dino Black surge no enquadramento como quem atravessa a parede e chama o espectador para dentro do jogo. O gesto da mão estendida não é pedido nem ameaça: é convite. O corpo avança, o olhar fixa, a pose mistura desafio e ironia — exatamente o tom da exposição We’re Only in it for the Money, de Carlinhos Guimarães.
Ao fundo, quase como um comentário silencioso, a instalação I’m Only in it for the Money, de Antonio Carlos Guimarães, observa a cena. As molduras penduradas na parede não disputam atenção; funcionam como lastro, como prova material de que ali a arte não é neutra, nem decorativa. Ela provoca, enquadra e ri da própria condição.
Depois de uma rápida peregrinação pelas quadras da Candangolândia, Dino Black foi encontrado — como se nunca tivesse estado perdido. Ele entra “dentro” da exposição com o corpo inteiro, incorporando o espírito da obra: não há distância entre artista, público e instalação. Tudo é presença, performance, atravessamento.
“Tô dentro!” não é só uma resposta. É uma tomada de posição. Dino não posa para a exposição; ele a ativa. E, nesse instante congelado, fica claro que o dinheiro é apenas o pretexto — o que está em jogo é o gesto, a atitude e a fricção entre quem olha e quem se deixa olhar.
Estranhamente, o início também é o fim: “Guimarães para fãs”
Guardo muitas histórias na cabeça envolvendo Carlinhos Guimarães. A mais insólita talvez seja a que Léo Saraiva contou: disse que foi ao casamento do Carlinhos na era da pedra lascada. Naquele tempo, Carlinhos ainda trabalhava nos Correios.
Também me lembro bem do dia em que recebi, pelos próprios Correios, um folder da Galeria/Museu Nacional dos Correios, no SCS, convidando para uma exposição dele. Havia algo de circular nisso tudo, como se a vida insistisse em fechar e reabrir caminhos pelo mesmo envelope.
O detalhe mais estranho veio depois, quando descobri seu nome completo: Antônio Carlos Figueiredo de Guimarães. Foi o próprio Carlinhos quem me passou, para que eu pudesse verificar um processo de reintegração aos Correios, já no período do segundo governo Lula.
Começo e fim se tocando outra vez.

Eu já tinha brigado com meio mundo.
Curiosamente, os caras que fizeram o livro foram os primeiros a acreditar que ele era bom. O revisor gostou. O paginador fez o que pôde dentro das limitações. Então veio, tempos depois, a crítica ácida de Carlinhos Guimarães:
— “E a qualidade horrível dessas fotos?”
A resposta foi imediata e definitiva — não vale repetir aqui. O fato é que o paginador acabou diminuindo o livro em um centímetro, o revisor abandonou a revisão, e o final foi fechado por mim e pelo Gicello, no braço, na raça.
Algum tempo depois, Carlinhos reapareceu dizendo que gostou da revisão final. Eis o paradoxo: quem lança livro passa por isso — essa dança estranha entre apoio, sabotagem, abandono e reaparecimento.
O livro foi atirado ao mundo, sem cerimônia. Outro dia vi o Fábio mergulhar nele sem medo, como quem entende o risco e aceita o jogo.
Valeu a pena fazer o livro.
Mas, antes de tudo, é bom deixar claro: não se faça de besta.
Isso aqui é produção underground.
2019
4 DE SETEMBRO
Acabei de receber uma sequência de telefonemas. No fundo, Slade tocando alto. Do outro lado da linha, Zéantônio completamente fora de órbita, gritando:
— “Carlinhos Guimarães! Carlinhos Guimarães!”
Isso quer dizer uma coisa só: estamos de luto. E que, a qualquer momento, podemos nos reunir para beber algumas cervejas, como se fosse possível adiar a ausência com álcool e conversa atravessada.
Não há mais amigos capazes de morrer na mesma semana pela falta de um amigo. Podem me tirar tudo — até os sonhos — menos a satisfação de ter vivido intensamente aquilo que eu escrevia. Amizade é isso: a gente se separa, mas nunca esquece as besteiras que fez junto. Essas pessoas cheiram e fedem como a gente. E, por isso mesmo, valem mais do que 100% da população ajustada.
Poetas do absurdo estridente
O Poeta Pezão era mais velho do que eu. Homem do povo. Não gostava de rock — o que, por si só, já era digno de nota. Preferia o atrito, a palavra direta, as experiências amorosas e a fricção da vida. Curiosamente, nunca brigamos. Nos encontrávamos nos bailes do Sindsep, como se aquilo fosse um território neutro.
Pezão tinha ódio declarado da elite e da burguesia. Fugiria de qualquer evento chique para sentar conosco num bar qualquer. Quando me via, gritava:
— “Professor, paga um conhaque!”
Eu acenava para o garçom. Simples assim.
Ele também me vendia ternos feitos por ele mesmo, com cuidado artesanal, como quem costura resistência.
Seus grandes companheiros eram Carlinhos “Guimarães” e Zéantônio. A nossa festa foi memorável. Tenho certeza de que continua em outro plano.
Agora, sem Carlinhos Guimarães e, depois, sem Paulo Iolovitch, sou obrigado a refazer os caminhos deles, guiado por rastros, fragmentos, restos. Artistas assim são raros e não se substituem. Mordido pela arte, comecei minha coleção em 2005 — sem a genialidade deles, sem a presença deles, mas com o meu argumento.
Foi Glauber Rocha quem nos ensinou a falar sem parar. A começar uma conversa ao telefone sem se identificar, como se ela já estivesse em andamento há horas. Diziam que Glauber era louco — isso vinha sempre dos adversários ideológicos ou dos concorrentes medíocres. Mas o sotaque grave denunciava: era ele.
Carlinhos Guimarães fazia o mesmo: entrava em perfídias, sumia e reaparecia pelo fio do telefone numa logorreia escalafobética. Sandro Alves também pensa cinema assim. Com Marcão Gomes, o diálogo ganha uma velocidade que beira o colapso.
É isso: comunicação além da compreensão. As palavras suam pelas cordas vocais como um pedido de socorro antes do nó apertar.
Os artistas esclarecidos são empurrados à própria sorte.
Ele gostava de colagens surrealistas, desproporcionais. Devia gostar da arte russa revolucionária, dos cartazes. Escovava os dentes com Moët & Chandon. A gente só conhece alguém de verdade quando dorme e acorda ao seu lado, em transe, quando os postes viram estrelas minúsculas — e a esperança é o único quadro que não se pinta.
Ele pediria um som industrial dos anos 80, mas aceitaria The Doors. Foi a trilha da despedida. Camisa de mangas compridas, azul-turquesa. Barba feita, cabelo longo preso. A vida fica mesmo monótona quando chega ao último quadro.
Empurramos o barco para a longa jornada. A cidade perde um artista de expressão beat, de beatitude incontrolável. Nunca o vi vomitar — já ele…
Ficamos tristes. Atônitos. Estáticos.
Zéantônio abriu o vidro do carro, soltou a fumaça do baseado. No som, The Doors. Depois fomos beber como se ele tivesse ido ao banheiro. O garçom buscava a próxima dose, talagada após talagada.
Carlinhos Guimarães contaria um de seus casos fantásticos. Abriríamos os vidros de novo.
Lamentável foi o que eu disse ao irmão dele.
Um artista é um conjunto de trincheiras: no centro, um paiol — tudo à prova de balas e de uma insanidade que não se abala. É ali que se vomita a véspera, enquanto a ansiedade chega à mesa como sopa quente, servida antes do prato principal. Escrevo para você, apenas para vocês — gente que não arrepia a pele, não merece desconto. Nisso, sou Carlinhos “Guismarães” pra caralho. Os chatos, esses se anunciam sozinhos: chatos pra caralho, fiéis até o fim aos próprios perfis.
Distâncias

Foto: Marco Gomes
Continuei andando como quem mede o mundo em queixas. A distância parecia crescer a cada passo. Numa dobra da rua, alguém me pediu um norte: “Quadra 17?”. Apontei o gesto mínimo — esquerda, depois o avesso do caminho. Quando a avenida se abriu, ele surgiu, como se sempre tivesse estado ali: Carlinhos Guimarães. Sem anúncio, sem pressa. Alguns metros adiante, uma chave revelou um cadeado, o cadeado revelou um portão, e o portão, um território provisório.
Dentro, o cheiro da obra e uma cozinha improvisada. Da garrafa sem nome, um golpe ardido na garganta. Nenhuma explicação. Apenas: “Eu fico.”
Só mais tarde soube que aquele lugar era morada — e que ele não estava sozinho.
Conheci o contrabaixista Célio de Moraes numa exposição de Carlinhos Guimarães, na W3 Sul. Naquele tempo, Célio estava mergulhado nas gravações do CD Doomsday.