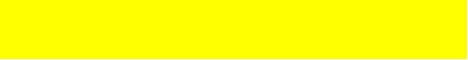Três leituras para o veto ao Master (2025)
- Details
-
Hits: 83
O VETO AO BANCO MASTER: TRÊS NARRATIVAS ENTRE TÉCNICA, POLÍTICA E DISPUTA LOCAL
A decisão do Banco Central de barrar a compra do Banco Master pelo BRB recebeu três leituras distintas: para a VEJA, foi um movimento técnico e necessário diante dos passivos gigantes e da fragilidade estrutural do Master; para Lauro Jardim, revelou o fracasso de Daniel Vorcaro em apostar mais em suas conexões políticas e estilo ostentatório do que na solidez financeira; já para Ibaneis Rocha e o BRB, a medida foi tratada inicialmente como resultado de pressões partidárias de PT e PSB contra o DF, antes de um recuo em tom mais institucional. Juntas, as três narrativas mostram que o episódio é ao mesmo tempo econômico, político e local.
A decisão do Banco Central de barrar a aquisição do Banco Master pelo BRB, em setembro de 2025, ganhou três leituras distintas — cada uma revelando uma camada do episódio.
1. A narrativa técnica (VEJA – Radar Econômico)
A coluna da VEJA destacou os números: ativos inflados, passivos crescentes, forte descompasso entre captação e aplicações. A ênfase recai sobre a fragilidade estrutural do Master, que teria de vender ativos com deságio de até R$ 40 bilhões para se manter. Aqui, o veto do BC aparece como medida de prudência regulatória, necessária para proteger o sistema financeiro e o Fundo Garantidor de Créditos. É uma narrativa de balanços, liquidez e riscos sistêmicos.
2. A narrativa política-personalista (Lauro Jardim, O Globo)
Já Lauro Jardim olha menos para os números e mais para Daniel Vorcaro. Mostra como sua principal “arma” não era o balanço do Master, mas sim suas conexões políticas. Relata pressões e ameaças do Centrão contra o diretor do BC responsável pelo caso, além da postura de ostentação de Vorcaro, que parecia alheio à gravidade da crise. Aqui, o veto simboliza os limites do capital político diante de problemas financeiros concretos.
3. A narrativa local e partidária (Ibaneis Rocha/BRB)
O governador do DF reagiu politizando o episódio. Ibaneis acusou PT e PSB de atuarem contra o DF e defendeu o negócio como estratégico para projetar o BRB e gerar dividendos bilionários. Depois recuou, dizendo que a pressão política era apenas especulação, enquanto o BRB divulgava comunicado em tom técnico. Essa narrativa revela a disputa política regional, na qual o veto do BC é lido como resultado de jogo partidário, e não apenas de fundamentos financeiros.
Síntese comparativa
VEJA: foco no dado técnico-financeiro → um banco inviável, barrado por prudência regulatória.
Lauro Jardim: foco no poder político e estilo pessoal de Vorcaro → o capital político não salva balanços frágeis.
Ibaneis/BRB: foco no embate partidário e interesses locais → o veto como ação política contra o DF.
Conclusão
Essas três leituras não se contradizem totalmente, mas se complementam:
a realidade financeira (VEJA) explica a inviabilidade,
a tentativa de blindagem política (Lauro Jardim) mostra como se tentou contornar o problema,
e a retórica partidária (Ibaneis/BRB) expõe como a decisão reverbera no jogo político regional.
O caso do Master, portanto, não é só um episódio bancário, mas um ponto de encontro entre economia, política nacional e disputa local.